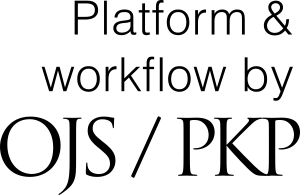O novo número, 20.1/2025, saiu!
A Teoria e Cultura - Revista de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFJF - já está online, em seu volume 20, número 1 de 2025!
Baseado no dossiê "Culturas sonoras: (re)produções, (re)(a)presentações e registros em tempos de digitalização", organizado por Daniel Wainer, Luis Meza e Mateus Marcílio de Olveira, o volume foi o primeiro em fluxo contínuo da história da revista.
Confira os artigos já disponíveis em v. 20 n. 1 (2025): Culturas sonoras: (re)produções, (re)(a)presentações e registros em tempos de digitalização | Teoria e Cultura.
E não deixe de acompanhar os próximos artigos a serem publicados.
Saiba mais sobre O novo número, 20.1/2025, saiu!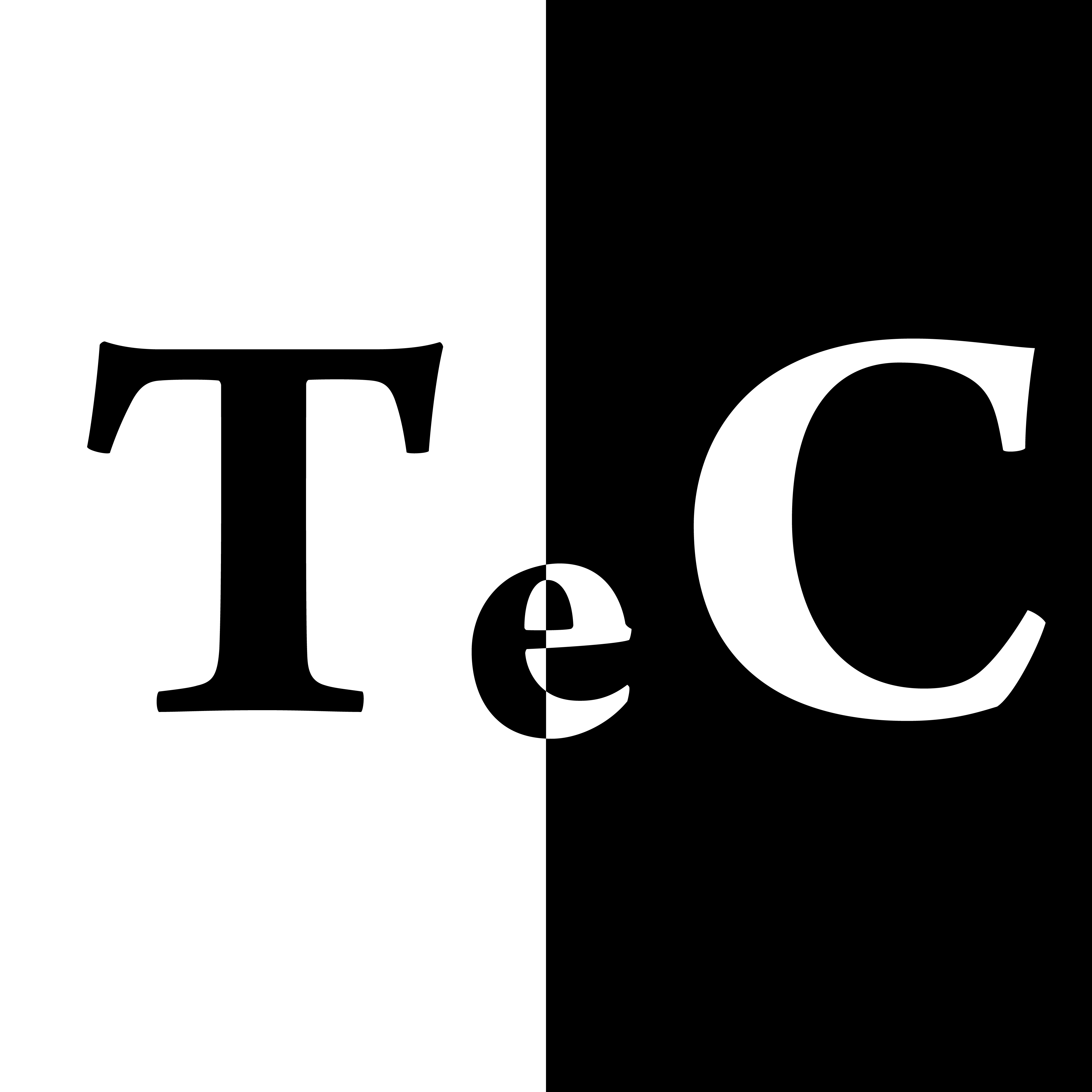
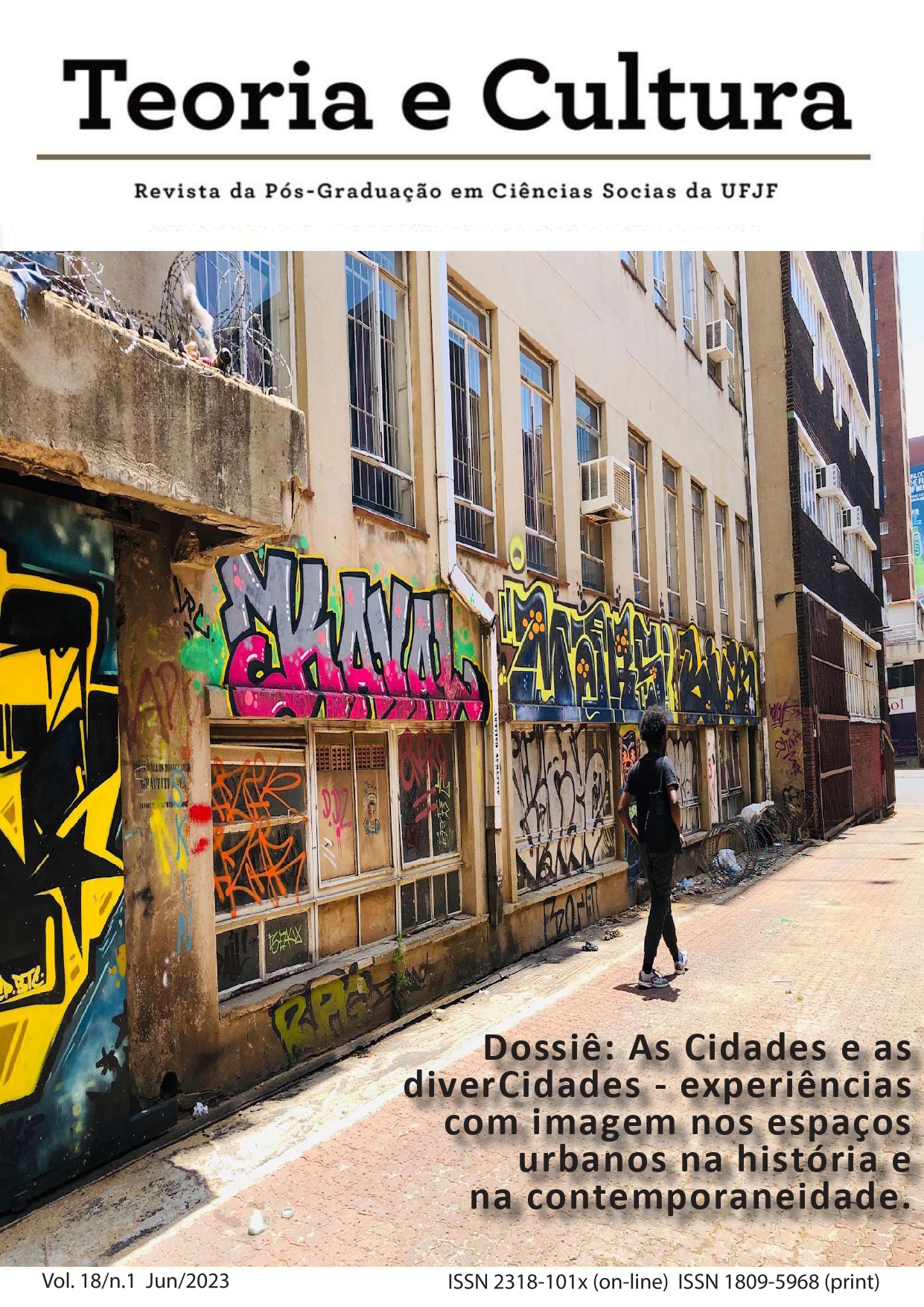 O volume 18, número 1, da Revista Teoria e Cultura aborda o tema instigante da produção imagética e sua contribuição para o processo de formação das cidades. A coletânea apresenta elementos para uma reflexão original e ampliada sobre o espaço urbano. Organizado por Caterine Reginensi (UENF), Mariana Cunha Pereira (UFRR) e Rubia-Mar Nunes Pinto (UFG) o dossiê As Cidades e as diverCidades – experiências com imagens nos espaços urbanos na história e na contemporaneidade se constitui como uma oportunidade ímpar para compreender aspectos antropológicos e sociológicos da relação entre espaço, cidade, artes, memória e cultura. Na seção Artigos, do fluxo contínuo da revista, quatro excelentes contribuições compõem esta edição: um artigo sobre a relação entre ontologias e esquerda na Antropologia, um debate sobre o fazer etnográfico durante a pandemia, uma análise etnográfica sobre a construção de subjetividades nas redes sociais e, por fim, uma discussão sobre o conceito de realismo capitalista na obra de Mark Fisher. Contamos também com uma ótima resenha da obra de John Dryzek e Jonathan Pickering, The politics of the Anthropocene. Aproveito para dar muito boas-vindas a nosso assistente editorial Juliano Dias Guimarães. Desejamos a todes uma excelente leitura.
O volume 18, número 1, da Revista Teoria e Cultura aborda o tema instigante da produção imagética e sua contribuição para o processo de formação das cidades. A coletânea apresenta elementos para uma reflexão original e ampliada sobre o espaço urbano. Organizado por Caterine Reginensi (UENF), Mariana Cunha Pereira (UFRR) e Rubia-Mar Nunes Pinto (UFG) o dossiê As Cidades e as diverCidades – experiências com imagens nos espaços urbanos na história e na contemporaneidade se constitui como uma oportunidade ímpar para compreender aspectos antropológicos e sociológicos da relação entre espaço, cidade, artes, memória e cultura. Na seção Artigos, do fluxo contínuo da revista, quatro excelentes contribuições compõem esta edição: um artigo sobre a relação entre ontologias e esquerda na Antropologia, um debate sobre o fazer etnográfico durante a pandemia, uma análise etnográfica sobre a construção de subjetividades nas redes sociais e, por fim, uma discussão sobre o conceito de realismo capitalista na obra de Mark Fisher. Contamos também com uma ótima resenha da obra de John Dryzek e Jonathan Pickering, The politics of the Anthropocene. Aproveito para dar muito boas-vindas a nosso assistente editorial Juliano Dias Guimarães. Desejamos a todes uma excelente leitura.